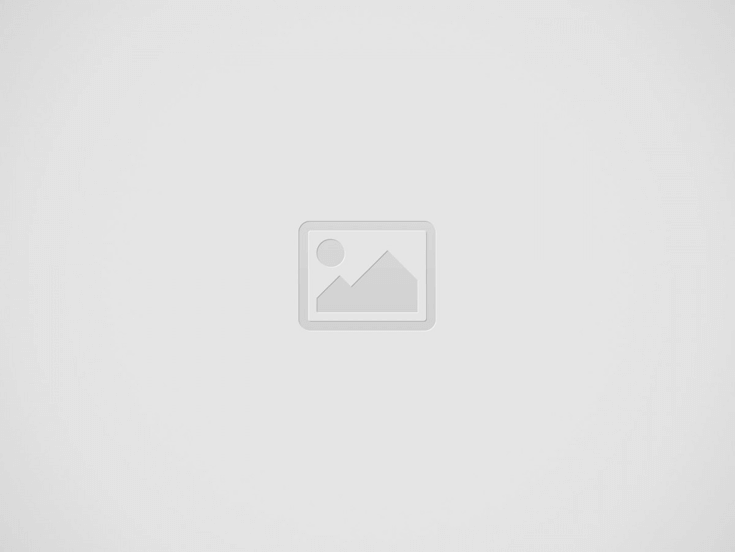

Lançado em agosto, o livro Imagens da branquitude: a presença da ausência, da antropóloga e historiadora paulista Lilia Moritz Schwarcz, tornou-se de imediato um acontecimento no mercado editorial, ativando na imprensa e em espaços sociais o debate em torno de temas como as relações entre brancos e negros (e também com indígenas) na sociedade brasileira. Lilia centrava seu olhar, para reflexão original, sobre a forma como brancos e negros foram retratados, ou tratados, em imagens (fotos, desenhos, gravuras, postais, peças de publicidade) em diferentes épocas.
Na verdade, ela dava continuidade a uma linha de investigação que se vincula a seu primeiro livro, publicado em 1987, Retrato em branco e negro. Nos anos seguintes, assinou ampla produção que envolve história, ensaio, biografia, entre eles As barbas do imperador, sobre Dom Pedro II, em 1998, e Lima Barreto: triste visionário, de 2017.
LEIA TAMBÉM: Qufu, China: Herança milenar e constante renovação
Publicidade
Aos 66 anos (seu aniversário é em 27 de dezembro), foi eleita para a Academia Brasileira de Letras, na qual tomou posse em junho da cadeira no 9, antes ocupada pelo diplomata Alberto da Costa e Silva, falecido em novembro de 2023, aos 92 anos, e que fora um de seus mentores intelectuais. Lilia concedeu entrevista exclusiva à Gazeta do Sul, em trocas de e-mails e respostas em áudios por WhatsApp.
Gazeta do Sul: “Imagens da branquitude”, seu livro lançado em agosto deste ano, aponta a “invisibilização” (ou ao menos a tentativa dela) dos negros em fotografias, desenhos, postais e outros registros de imagens de diferentes épocas no Brasil; e, no entanto, num olhar mais atento, eles estão ali, presentes. Em sua avaliação, quais as grandes decorrências e os grandes propósitos desse “ocultamento” e por que a sociedade ainda hoje o admite?
Lilia: O livro chama-se Imagens da branquitude: a presença da ausência, e em muitos momentos também chamo a atenção para a ausência da presença, que é exatamente essa sua questão. De um lado, mostro como a branquitude é um lugar tão pleno que ela nem precisa se afirmar, mas ela está por toda parte. É um conceito muito pautado no teórico Michel Foucault, que mostra como o poder está disseminado. Então, a branquitude é um sistema que se pauta no passado, mas se exerce no presente, e é também um sistema de privilégios materiais e simbólicos. Por isso analiso as imagens, porque justamente as imagens têm esse poder de naturalizar a desigualdade.
Publicidade
Por outro lado, a gente vê também como muitas vezes (e eu mostro isso nas imagens) pessoas negras foram deixadas de lado, foram escanteadas nas fotografias. Mas elas estão lá. E no livro também mostro a agência delas, mesmo nessas posições. Ou seja, como elas não se deixam ficar tão somente ocultas. O livro trabalha nos diversos capítulos a partir dessa dupla perspectiva: a presença da ausência, no caso das populações brancas, e a ausência da presença, no caso das populações negras.
A senhora entende que esse movimento de invisibilização é sempre proposital, ou pode ser até mesmo inconsciente? De todo modo, sendo um ou outro o caso, o estrago ou os efeitos disso são sempre os mesmos?
Eu mostro no livro que o racismo é estrutural, e que, portanto, ele estrutura a nossa linguagem, e a linguagem visual é uma linguagem muito importante. Mostro, por exemplo, a propaganda de empresas que pedem desculpa e depois voltam a incidir no erro, o que mostra como essa é uma questão de mais amplo espectro.
Então, pode ser proposital, por vezes é proposital, em alguns casos. Porque o livro é todo feito de imagens; em alguns casos eu mostro que, sobretudo nos documentos coloniais, havia uma tentativa de apagamento e de mostrar uma colônia muito apaziguada e sem grandes problemas. Mas mostro também como pode ser inconsciente. Nos dois casos, as consequências são muito ruins, e é por isso que a gente precisa ler imagens, para não deixar que essa invisibilização se torne um fenômeno natural.
Publicidade
LEIA TAMBÉM: Promulgada a lei do Conselho da Cultura Alemã em Santa Cruz
Não tem nada de natural: ela é toda construída. Eu também mostro como a gente vê por convenções. Essas são convenções criadas desde o século 16, e que fazem com que a gente deixe de ver. A gente vê mas não enxerga, né? Eu mostro no livro como ver é uma capacidade biológica; já enxergar é uma potencialidade cultural, e, muitas vezes, a cultura não nos permite enxergar.
Há outro paradoxo a considerar, o da própria branquitude, como a senhora refere. Por um lado, a branquitude quer estar (e está) no centro, mas por outro quer passar despercebida, ou invisível. Como isso se processa ou como se elabora?
Publicidade
O fenômeno da branquitude, não sou eu que crio esse conceito. Na verdade, há uma vasta produção, sobretudo de intelectuais negros, e também brancos, como a Lia Vainer Schucman, que trabalharam muito melhor do que eu com o conceito de branquitude. E eu também mostro que o conceito de negritude foi construído pelos movimentos negros dos anos 1920, 1930, nos Estados Unidos e na Europa, e que eles inverteram a chave da equação. Ao invés de a transformar numa forma de subordinação, transformaram numa forma de elevação, e negritude virou um conceito de autoelevação, de identidade de grupo.
Já branquitude nunca foi um conceito autoafirmado, as pessoas nunca se reconhecem pela branquitude. Isso porque a branquitude, como eu disse, é um sistema, que faz com que as pessoas brancas durante muito tempo analisassem os outros, mas não a si próprias. Como se pessoas brancas, como eu ou você, não fizéssemos parte de uma raça, como se nós fôssemos uma cor neutra.
Não somos, né? E essa nossa aparente neutralidade produz também um discurso de que nossos conhecimentos são universais, as nossas formas de beleza é que são universais, e isso tudo faz com que a branquitude crie regras mas não tenha que viver nessas regras, e classifique sem ser classificada.
Publicidade
Um efeito imediato de seu livro é fazer com que o leitor, de pronto, abra plenamente seus olhos para as imagens, toda e qualquer imagem. O que vale, em sua pesquisa, para o passado pode ser válido e ser levado em conta nos dias atuais, em diversos suportes e em diversas situações?
Quem for ler o livro na sua inteireza verá que todo capítulo eu trago para o presente, seja por propagandas contemporâneas, seja a partir de artistas contemporâneos, pois eu trabalho muito com eles. A ideia desses momentos do livro é muito importante, porque a gente não pode imaginar que esse é um fenômeno que ficou retido no passado, porque do contrário isso não cria consciência.
Uma das características do racismo brasileiro é jogar a culpa para outras pessoas. Ou seja, é dizer: você é, eu não sou. Enquanto nós não produzirmos uma autorreflexão, essa situação não muda nem é aliviada.
Acho que o livro, como digo logo no início, não é moralista nem normativo, tampouco branquitude funciona como categoria de acusação. Ela é uma categoria de reflexão para as pessoas brancas que estão muito pouco acostumadas a se analisarem. É isso que a gente chama de letramento racial, o que a bibliografia chama de letramento racial; ou seja, estudar a nós próprios.
O Brasil pode se dizer uma república ou uma democracia efetiva enquanto não tiver resolvido, ao menos em boa parte, sua dívida com os negros (também com os índios), empurrados para a margem, ou “invisibilizados”, além do legado da escravidão no passado? Quais as condições incontornáveis para cumprir tal tarefa?
Eu gosto muito do manifesto da coalizão negra por direitos em que eles chamam a atenção para um mote que já foi trabalhado pelo movimento negro da década de 1970, e é que nós não teremos uma democracia enquanto formos tão racistas.
E essa não é uma questão exclusivamente dos negros, é uma questão da nação brasileira. Porque a população negra, se nós olharmos os critérios do IBGE para pardos e pretos, juntos, e falarmos da população negra, ela corresponde a 56,4% do total. Então, ela é uma maioria numérica, mas minorizada na representação social, política, cultural, simbólica.
Estamos falando de maiorias minorizadas, e, portanto, o que faz com que essa discussão afete a todos e a todas nós, e não apenas e tão somente a população negra. E essa questão tem de ser enfrentada. Nós falamos tanto de traumas individuais, que traumas individuais têm de ser vencidos a partir da palavra, a partir do poder da palavra e da escuta. E eu penso que existem traumas coletivos também, e serão enfrentados somente se nós falarmos deles: a questão da escravidão, a questão do racismo, a questão dos trabalhos forçados, o que engloba também as populações indígenas.
Temos que tratar dessas questões, que são incontornáveis, com políticas públicas, com políticas de cotas, políticas de ação afirmativa, e tratando do problema abertamente, e de forma transparente.
Por que uma imagem, uma foto, um cartão-postal, uma obra de arte (desenho, pintura) são tão eficientes no sentido de transmitir um status quo, uma visão de mundo que se pretenda apresentar?
A palavra imagem vem de magia, e ela produz também outra palavra, que é imaginário. Então, as imagens têm esse poder. Muitas vezes nós nos imaginamos em determinadas situações que foram, por sua vez, imaginadas pelos seus autores e autoras. Por isso trabalho imagens e cultura visual de forma geral: não são só aquarelas, esculturas, gravuras, fotografias, mas são também propagandas, folhetos, folhetins, calendários.
Eu trabalho então cultura visual como um documento dos mais poderosos, que não só reflete o contexto, mas produz contextos, produz valores, produz concepções. Para mim, essa é uma tarefa, e nós vivemos numa civilização da imagem. Já passou da hora de nós não trabalharmos imagens como documentos inocentes; são documentos que interferem na própria realidade.
Em que medida olhares externos, estrangeiros, de fotógrafos, artistas, se diferenciaram de brasileiros ao mirar a cena social nacional em diferentes épocas? Era um olhar mais curioso, movido por estranhamento?
É muito difícil fazer uma generalização nesse sentido, em relação ao olhar estrangeiro. Tanto se pode ver que eu analiso Jean-Baptiste Debret, que vem em 1815, e que fazia parte, era uma espécie de pintor da Corte de Dom João VI, depois de Dom Pedro, e ele em boa parte de suas obras tentou naturalizar a desigualdade. Eu acho que é muito difícil que a gente faça essa divisão entre o olhar de fora e o olhar de dentro.
Reações recorrentes contra obras de artistas negros (livros, por exemplo), ou mesmo ações violentas de policiamento contra cidadãos negros, em que medida derivam desse contexto marcado pela branquitude que aparece nas imagens analisadas pela senhora?
Há uma relação imediata entre essas políticas de branquitude e o preconceito, o racismo estrutural e sistêmico existente no Brasil. E também a gente pode observar os dados das nossas penitenciárias, onde 78% da população carcerária é negra. Isso são dados muito evidentes do nosso racismo. Se nós pensarmos em termos de Covid-19, as populações mais vitimizadas, não por razões biológicas, mas por razões sociais, foram as populações negras, sobretudo as mulheres negras. Também as maiores vítimas da ação policial violenta são as pessoas negras. Eu vivo no Estado de São Paulo e as mortes contra as pessoas negras e jovens aumentaram demais. Ou seja, aumentaram na ordem de 78%. Então, são muitos os exemplos que mostram a correlação entre branquitude e negritude, sobretudo a correlação com a ação do Estado brasileiro, que vai vitimizando as populações negras.
Sempre se cita a educação como via para mudar as coisas. A senhora segue acreditando nessa premissa? Há outras vias possíveis ou necessárias?
Eu ainda acho que a educação é um passaporte importante para a gente romper com nosso círculo vicioso da desigualdade, com o círculo vicioso do racismo, da misoginia, enfim, tantos círculos viciosos que vêm do passado e são implementados no presente.
Acho que a educação é um elemento democrático, uma porta de acesso à cidadania, uma porta de acesso ao privilegio, que durante muito tempo ficou confinado só às populações brancas. Populações que vão criando os seus próprios mitos, criaram a própria escravidão, criaram o mito da democracia racial. E o mito mais contemporâneo é o mito da meritocracia, que é essa ideia de que as pessoas chegam aonde chegam apenas por mérito.
Não estou aqui para negar o mérito de ninguém, mas no momento em que eu converso com você, o Brasil é o sexto país mais desigual no mundo, e a desigualdade faz com que as pessoas não tenham acessos às mesmas instituições, aos mesmos lugares sociais. A gente precisa parar com essa história de universalismo, meritocracia, porque não se passa impunemente por ser o sexto país mais desigual do mundo.
A que novas pesquisas a senhora dedica atenção atualmente? O que deve vir por aí em sua produção?
Eu ainda estou em meio aos lançamentos de Imagens da branquitude e não tenho projeto certo daqui para a frente. Acabei de abrir uma exposição, do escultor Flávio Cerqueira, um escultor negro que trabalha no bronze, faz esculturas maravilhosas.
Falando aqui em branquitude, o bronze, uma liga metálica cara, durante muito tempo foi utilizado exclusivamente para pessoas brancas, em geral homens, das nossas elites econômicas, políticas, sociais e culturais. E o Flávio utiliza o bronze para retratar pessoas negras, pessoas do dia a dia, pessoas que ele encontra no ônibus, andando pela cidade, e pessoas negras em situações muito mais plenas.
Esse é meu projeto mais recente. A exposição abriu agora no CCBB de São Paulo, mas ela ainda vai primeiro para Belo Horizonte, depois para Brasília e Rio de Janeiro. Então, esse é meu projeto de imediato. Eu sou muito fã do Flávio Cerqueira e da arte que ele produz, e do tipo de escuta e de comunicação e empatia que a obra dele traz para todos e todas.
quer receber notícias de Santa Cruz do Sul e região no seu celular? Entre no NOSSO NOVO CANAL DO WhatsApp CLICANDO AQUI 📲 OU, no Telegram, em: t.me/portal_gaz. Ainda não é assinante Gazeta? Clique aqui e faça agora!
This website uses cookies.