E m 8 de maio de 1979, Candelária assistia a uma agitação fora do comum. No município então com cerca de 26 mil habitantes, dos quais apenas 7 mil viviam na zona urbana, uma multidão aglomerava-se junto ao Cemitério Municipal. Em parte, eram curiosos atraídos pelas notícias que haviam chegado nas últimas horas, sobre a perda inesperada de uma figura que todos conheciam bem na localidade. Em outra parte, altas autoridades do poder público estadual e nacional e jornalistas de todo o país.
A movimentação em torno daquele sepultamento – possivelmente o mais disputado e rumoroso de todos os tempos na cidade – contrastava com a simplicidade da pessoa de quem a população se despedia, o que fica evidente em uma anotação em sua certidão de óbito: “Era funcionária pública. Não deixou bens. Não deixou testamento conhecido.” Solteira, sem filhos, posses ou qualquer atuação política, Faustina Elenira Severino era apenas uma servidora do baixo escalão da Polícia Civil do Rio Grande do Sul e que sequer havia morrido em serviço. O que gerava, então, tanto interesse naquele enterro, a ponto de familiares terem recebido condolências de ninguém menos que o presidente da República?
Em uma época em que o fluxo de informações ainda era precário no interior, a maior parte da comunidade local desconhecia que o nome e a imagem de Elenira – como era chamada na família – tornaram-se recorrentes nas manchetes dos grandes jornais nas semanas anteriores. Lotada no antigo Departamento de Ordem Política e Social (DOPS), em Porto Alegre, a candelariense de 42 anos acabou enredada em uma trama que marcou a fase final do regime militar e que arrancou-a de seu anonimato, colocando-a na mira de repórteres e até de uma CPI na Assembleia Legislativa.
Publicidade
Tudo havia começado somente seis meses antes. Em novembro de 1978, quando após quase uma década e meia de ditadura ventos democráticos começavam a querer soprar no Brasil, a capital gaúcha tornou-se o epicentro de uma sequência de acontecimentos que expuseram a intensas pressões os governos estadual e federal. O estopim foi a prisão do casal de uruguaios Lilián Celiberti e Universindo Diaz em uma ação não oficial, coordenada em conjunto pelos regimes do Brasil e do Uruguai e que acabou flagrada por dois jornalistas, Luiz Cláudio Cunha e João Baptista Scalco. O caso, que ficou conhecido como “o sequestro dos uruguaios” e inspirou livros e teses acadêmicas nas últimas décadas (em muitas das quais Elenira é citada), revelou a existência da chamada Operação Condor, uma aliança entre os aparelhos de repressão dos regimes militares do Cone Sul.
O envolvimento de Elenira se deu porque foi ela a encarregada de cuidar dos filhos de Lilián enquanto o casal era interrogado e torturado. Em pouco tempo, a investigação jornalística que se seguiu à descoberta do sequestro chegou ao seu nome e ela, reconhecida por uma das crianças, se tornou uma personagemchave da trama. Sua palavra seria capaz de arruinar a versão oficial do governo, que negou até o fim a participação na ação clandestina – só esclarecida graças à persistência da imprensa em buscar a verdade.
Passados mais de 40 anos, a Gazeta do Sul resgatou a trajetória esquecida desta mulher, por meio de documentos e entrevistas com familiares e pessoas que estiveram com ela em seus últimos momentos. Embora tudo indique que Elenira, por sua posição subalterna, sequer tivesse conhecimento do que se passava, foi ela, por ironia, a única em toda a história que pagou com a vida. E as circunstâncias de sua morte são, até hoje, um mistério para muitos dos que testemunharam aqueles dias conturbados. (A pesquisa contou com a colaboração da jornalista Heloísa Corrêa, do Jornal de Candelária).
Publicidade
LEIA MAIS: Itamaraty vai pedir acesso a documentos da CIA sobre ditadura militar

Do convento ao DOPS
Em Candelária, todo mundo conhecia os Severino. No município localizado a 180 quilômetros de Porto Alegre, a família encabeçada por Faustino Antonio Severino e Alfredina Gomes da Silva tinha intensa atividade social. Faustino passou por diversos empregos e chegou a capataz da Prefeitura (o equivalente hoje a secretário de Obras). Alfredina, que na cidade era chamada de Dona Neca, era porteira servente na Escola Estadual Guia Lopes. “A família Severino foi marcante em vários aspectos. Na música, na participação nas sociedades, no Grêmio Esportivo Juventude”, recorda o candelariense Orlando Kochenborger.
Nascida em 15 de fevereiro de 1937, Elenira era a terceira dos nove filhos do casal. Estudou no Colégio Nossa Senhora Medianeira e, como o restante da família, teve um convívio próximo durante toda a juventude com as irmãs bernardinas, que à época atuavam na localidade. Por conta disso, chegou a transferir-se para um convento em Camaquã com planos de virar freira, mas desistiu antes de fazer os votos.
Publicidade
Na cidade natal, era conhecida pelo humor sagaz e passava os dias rodeada de amigos. “Onde a Elenira estava, pode saber que tinha piada”, conta a caçula Niza, a única remanescente da prole, hoje com 80 anos. Corpulenta e de cabelo volumoso, Elenira recebeu dos colegas do Medianeira o apelido de Buião, em função da pele escura, e tinha entre seus principais passatempos pescar lambari e andar a cavalo. “Era uma molecona”, resume a irmã.
Ao contrário da maioria das moças de sua geração, nunca se interessou em casar. Quando percebia as intenções de algum homem, já alertava quem estava por perto: “Se ele se aproximar, aponto meu bodoque” – bodoque, aliás, que era outra de suas diversões. Em função dessa personalidade, algumas amigas a descreviam como “um navio sem porto”. Embora não tenha tido filhos, adorava estar cercada por crianças e era muito protetora com os sobrinhos. Depois de abrir mão da vida religiosa, seguiu o caminho de todas as irmãs e foi estudar para ser professora. Completou o estágio, mas não chegou a exercer.
Foi então que resgatou um desejo antigo: o de ser policial. O pai, que também havia sido delegado, ensinara todos os filhos a atirar com revólver, inclusive as mulheres. Elenira já manifestava gosto desde cedo, a ponto de, em um certo Natal, decepcionar-se profundamente ao desembrulhar o presente e descobrir que, tal qual as irmãs, ganhara uma boneca. O que esperava era uma pistola de brinquedo e não descansou até que Faustino fizesse a troca na loja.
Publicidade
Decidida, acabou ingressando na primeira turma feminina da Polícia Civil gaúcha, aberta em 1970 e na qual formaram-se 42 mulheres. Logo após a nomeação, acabou lotada como escrivã no DOPS, instalado no segundo andar do Palácio da Polícia, na esquina entre as avenidas Ipiranga e João Pessoa, na capital. Braço da repressão a opositores do governo, o órgão foi o local onde o destino trágico de muitas pessoas foi traçado ao longo do período ditatorial. O de Elenira também seria.
‘A mulher do xerox’
Até o início dos acontecimentos, Elenira estava satisfeita com seu trabalho no DOPS. Lá, convivia, dentre outros, com Orandir Lucas (conhecido como Didi Pedalada, um ex-jogador do Internacional que, após aposentar-se do futebol, tornouse agente) e Pedro Seelig, o chefe do departamento e figura emblemática do regime militar. Aos familiares, costumava descrever Seelig como um homem rigoroso e que impunha respeito.
Em certa ocasião, a irmã Niza foi a Porto Alegre para uma bateria de exames. Recebida por Elenira na Rodoviária, foi convidada a conhecer o seu local de trabalho. No DOPS, foi apresentada a Seelig que, sempre que mencionava Elenira, divertia-se ao relembrar a história de quando ela e uma colega avistaram, de dentro de um ônibus urbano na capital, um assalto na calçada. As duas saltaram imediatamente do coletivo e saíram em disparada atrás do assaltante. Quando o alcançaram, deram uma surra nele com a única “arma” de que dispunham: suas sombrinhas.
Publicidade
Elenira, porém, era uma funcionária burocrática e sem nenhuma influência na estrutura do DOPS. Trabalhava na seção de protocolo. “Ela era a ‘mulher do xerox’”, metaforiza o presidente do Movimento de Justiça e Direitos Humanos, Jair Krischke, que acompanhou de perto o episódio à época. Por conta disso, é provável que ela sequer tivesse acesso a tudo o que ocorria no local, onde funcionava um dos famosos “porões da ditadura”.


O dia do sequestro
Foi no dia 12 de novembro de 1978, um domingo, que Elenira, de plantão no DOPS, se viu pela primeira vez diante de uma jovem uruguaia de 29 anos, de quem provavelmente jamais havia ouvido falar.
Pouco antes do encontro, Lilián Celiberti fora detida na Estação Rodoviária. Militante do Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), ela havia conhecido o cárcere em 1972 no Uruguai por integrar uma organização universitária marxista. Cumpriu dois anos de pena e, após um período na Itália, chegara a Porto Alegre em outubro daquele ano. O companheiro dela, o estudante de Medicina Universindo Rodríguez Diaz, tinha 27 anos e, antes de chegar ao Brasil, havia sido refugiado na Suécia. Ao contrário do que ocorria no Brasil, onde a campanha pela anistia ganhava força e a imprensa e os sindicatos começavam a se movimentar com mais liberdade, a ditadura uruguaia vivia o seu período mais duro e a missão do casal no Rio Grande do Sul era repassar informações sobre direitos humanos em seu país para entidades internacionais na Europa – informações essas que obtinham por meio de contatos nas fronteiras.
No momento da prisão, Lilián aguardava a chegada de um ônibus de Montevidéu que traria familiares de desaparecidos e presos políticos. Na sequência, Universindo e os dois filhos de Lilián, Camilo, de 8 anos, e Francesca, de 3, foram detidos em frente ao prédio onde moravam, na Rua Botafogo, e conduzidos ao DOPS. Lá, Lilián e Universindo foram barbaramente torturados.
A presença das crianças, no entanto, desestabilizou os agentes que executavam a operação clandestina. “Quando eles praticam o sequestro, são surpreendidos pela presença de duas crianças. Não sei se os uruguaios sabiam e sonegaram a informação, mas os brasileiros não sabiam”, relata Krischke.
Coube justamente a Elenira – que sequer sabia o que se passava – ficar com Camilo e Francesca enquanto a mãe era interrogada. “Ela tinha uma fisionomia particular. Aparentava ter uns 50 anos, tinha um aspecto de senhora e estava de uniforme”, relembra Lilián, que conversou com a reportagem por videoconferência desde Montevidéu. Quando as duas estiveram frente a frente, Lilián disse a ela que temia por seus filhos, alegou que havia muitos casos de filhos de presos políticos que desapareciam e implorou a ela que garantisse a segurança deles. Embora estivesse visivelmente nervosa, Elenira tentou acalmála. “Ela disse para eu ficar tranquila, que cuidaria deles, e para eu confiar nos agentes, que eram pessoas boas”, conta a ativista.
Conforme Lilián, apesar do seu protagonismo na história, Elenira jamais foi tema de conversa com os filhos após o episódio. “Nunca falamos especificamente sobre ela. Para meu filho, principalmente, foi um processo muito difícil reconstruir a história. Ele demorou muito tempo para conseguir falar sobre isso.”

Segundo encontro
Elenira e Lilián ainda se encontrariam mais uma vez. Após os interrogatórios no DOPS, os uruguaios foram conduzidos naquele mesmo domingo até a fronteira com o Uruguai, no Chuí, onde novamente o casal foi submetido a torturas.
Para além da dor física, a preocupação de Lilián era porque sabia que, se entrassem no Uruguai, os agentes poderiam assassiná-los sem deixar vestígios. A melhor estratégia para tentar preservar os filhos, portanto, era permanecer no Brasil. Ela, então, concordou em fornecer aos agentes uma informação: a de que dali a alguns dias teria uma reunião com um alto membro do PVP em Porto Alegre. Com isso, foi levada de volta à capital gaúcha. O plano, porém, só funcionou parcialmente, pois Camilo e Francesca seguiram para Montevidéu com os agentes.
De volta ao DOPS, Lilián, desesperada por ter sido separada dos filhos, se deparou mais uma vez com a agente que horas antes ficara responsável por cuidá-los. O encontro foi descrito no livro Operação Condor: O sequestro dos uruguaios, de Luiz Cláudio Cunha:
“Quando a porta abre, Lilián se depara com a mulher negra que cuidara das crianças, a mulher que não atendera seu pedido de socorro. Ela aproveita um descuido do capitão e cobra da agente: – Te lembras do que eu disse? Que levariam os meus filhos?… Bueno, agora eles estão com os meus filhos… E você me disse que eu ficasse tranquila, que nada aconteceria a eles… A negra mostrou angústia no rosto.”
Atraídos pela ideia de capturar mais um integrante da organização, os agentes prepararam uma armadilha: na sextafeira seguinte ao sequestro, 17 de novembro, quando ocorreria a reunião, policiais aguardavam com Lilian dentro do apartamento da Rua Botafogo. Não sabiam, porém, que durante a semana Lilián havia conseguido informar a um aliado em Paris, por meio de uma mensagem codificada transmitida por telefone, que havia siddetida.
Com isso, quem bateu na porta do apartamento naquela tarde não foi a pessoa que os agentes esperavam e, sim, o jornalista Luiz Cláudio Cunha e o fotojornalista JB Scalco, que atuavam na sucursal da Editora Abril em Porto Alegre. Horas antes, Cunha havia recebido uma ligação de São Paulo, de um homem que falava em espanhol e não se identificou, pedindo que averiguasse a situação de dois uruguaios que estariam desaparecidos.
De posse do endereço, Cunha e Scalco se depararam com Lilián cercada de agentes, que chegaram a detê-los por alguns minutos. Frustrando os planos da polícia, a ação clandestina havia sido descoberta, o que levaria o caso a conhecimento público dali a poucos dias. E a tranquilidade de Elenira ficaria sob risco.

‘Oscura y de pelo redondo’
No mesmo dia em que Cunha e Scalco estiveram no apartamento, Lilián foi entregue ao Uruguai, na fronteira com Santana do Livramento. Oito dias depois, as Forças Armadas uruguaias divulgaram que ela e Universindo estavam presos em Montevidéu. Segundo o anúncio oficial, eles teriam sido detidos ao tentar ingressar no país – uma versão cujo objetivo óbvio era encobrir a operação clandestina. Os filhos haviam sido entregues aos avós.
Em Porto Alegre, porém, o caso já havia sido denunciado como sequestro pelo advogado Omar Ferri. Em paralelo, os jornalistas corriam atrás de evidências para comprovar o que o governo negava: a participação de agentes brasileiros na ação.
A primeira evidência surgira ainda dentro do apartamento da Rua Botafogo, quando Scalco, ex-fotógrafo da revista Placar, reconheceu um dos agentes: o ex-futebolista Didi Pedalada. No dia 27, Cunha e o fotojornalista Ricardo Chaves, o Kadão, se deslocaram até Montevidéu para encontrar-se com o filho de Lilián. Questionado sobre as circunstâncias da detenção, Camilo acabou por revelar uma informação decisiva: a descrição feita por ele do local para onde foi levado junto com a irmã, a mãe e Universindo batia com as características da sede do DOPS. Foi o suficiente para que a revista Veja também denunciasse o caso, que logo estaria no centro das atenções de todo o país.
Dois meses depois, o garoto forneceria mais um dado importante. Afirmou que, enquanto sua mãe estava com os policiais, ele e Francesca ficaram sob os cuidados de uma mulher oscura y de pelo redondo (“de pele escura e cabelo redondo”). O relato se tornaria a chave para o ingresso de Elenira no caso que já tomava proporções de escândalo.
Dois telefonemas misteriosos
Diante do nítido desinteresse da Polícia Civil em apurar a participação de servidores na ação ilegal, coube à imprensa o movimento para identificar quem estava na equipe que participou do sequestro. E o nome de Elenira seria descoberto em fevereiro de 1979, menos de três meses antes de sua morte.
As conexões começaram quando Cunha, Kadão e o advogado Omar Ferri obtiveram acesso à íntegra da sindicância aberta pela corporação para apurar o episódio. Em meio a um sem fim de informações, o depoimento de uma escrivã do DOPS chamou a atenção deles. “Ela dizia que não sabia de nada, que tudo o que sabia sobre o caso era através dos jornais e que a única pessoa que ela conhecia era o Dr. Ferri, porque ele havia sido advogado de seu irmão”, lembra Kadão.
A ficha de Ferri não demorou a cair. Em uma incrível coincidência, poucos dias antes do sequestro ele havia, a pedido de um grupo de servidores do Judiciário, defendido em um júri o candelariense Delaro Severino, irmão de Elenira, que era oficial de Justiça em Porto Alegre e respondia a uma acusação de homicídio.
Mas essa não foi a única conclusão a que Ferri chegou naquele momento. Em novembro, quando o paradeiro de Lilián e Universindo ainda era desconhecido, o advogado recebeu uma estranha ligação anônima em sua residência. Quem atendeu foi sua filha, que à época era adolescente. “Era uma voz feminina e disse: ‘Diz para o Dr. Ferri agir com rapidez porque eles vão entregar os filhos para militares uruguaios e vão matar a Lilián e o Universindo. Eu devo favores a Ferri’”, relata o advogado, que também documentou a história em um livro, Sequestro no Cone Sul.
Já em fevereiro, Ferri recebeu outro telefonema misterioso, este atendido por sua empregada. A voz masculina pedia que o advogado procurasse por alguém chamado “Irmão Ângelo” em uma escola da capital, pois essa pessoa seria capaz informar quem era a mulher que havia cuidado das crianças uruguaias. Dias depois, o filho de Ferri, então estudante do antigo Colégio Nossa Senhora das Dores, chegou em casa com um recado do próprio Irmão Ângelo, de que queria encontrá-lo. Na conversa, o religioso informou a Ferri que a funcionária do DOPS que eles estavam procurando chamava-se Elenira.
Ferri nunca mais teve notícias de Irmão Ângelo e desconhece como ele sabia do envolvimento de Elenira. Niza, a irmã mais nova da candelariense, também não suspeita quem seja.
Já em relação ao primeiro telefonema, Ferri não tem dúvidas: era Elenira, que tentou alertá-lo sobre o risco sob o qual estava o casal de uruguaios naquele momento. O favor citado por ela era o fato de Ferri ter advogado para seu irmão e evitado a condenação dele. “Tenho convicção plena que foi ela”, assevera Ferri, mais de quatro décadas depois.
LEIA TAMBÉM: Corte internacional condena Brasil por não investigar morte de Herzog
LEIA MAIS: E se o AI-5 ainda estivesse valendo, o que seria proibido?
A foto que correu o país
Elenira foi a terceira servidora identificada como partícipe do sequestro. Antes dela, haviam sido apontados o agente Didi Pedalada e o diretor Pedro Seelig. O nome da candelariense, porém, só foi levado a público após ela ser reconhecida por Camilo, filho de Lilián, como a mulher que cuidou dele e da irmã no DOPS.
Após sua identidade ser descoberta, Cunha, Kadão e outros dois jornalistas – o repórter Osmar Trindade e o fotógrafo Olívio Lamas – foram ao encontro de Elenira em um prédio de três andares na Rua Professor Freitas de Castro, 517, a poucos passos do Palácio da Polícia. Elenira vivia no apartamento 313.
Kadão recorda que, tão logo ela abriu a porta, ele lembrou-se da descrição feita por Camilo – o formato do cabelo dela lembrava um capacete (o “pelo redondo”). “Quando vimos a Elenira, tivemos certeza que era ela que tinha dado o telefonema para o Ferri”, conta.
Na sala do modesto apartamento, os jornalistas tentaram conversar com Elenira, mas ela negou sistematicamente que soubesse de qualquer coisa. Seu nervosismo, porém, chamava a atenção. “Ela estava tão nervosa que, lá pelas tantas, alguém pediu um copo d’água e, quando ela trouxe, o copo tilintava em cima do pires”, lembra Kadão.
Cunha, então, propôs a Elenira que permitisse ser fotografada. Sua imagem seria levada para Camilo e, se ela de fato não tinha qualquer envolvimento, o garoto não a reconheceria e eles a deixariam em paz. Ela, no entanto, alegou que isso poderia lhe causar problemas com seus superiores.
O grupo deixou o apartamento sem nada em mãos, mas decididos a conseguir a foto que Elenira se recusava a tirar. Kadão e Lamas, então, montaram campana em frente ao prédio, na expectativa de que ela saísse. Após mais de uma hora sem nenhum sinal, partiu de Lamas a ideia: os dois se posicionaram em um estacionamento que ficava ao lado do prédio e direcionaram suas lentes teleobjetivas para as duas janelas do apartamento que estavam escancaradas. “Ficamos em posição prontos para disparar e o Lamas gritou “Faustinaaaaaaa!”. Não deu outra, ela botou a cara na janela. A gente tirou a foto e ela se abaixou”, diz Kadão.
A foto foi revelada e, naquele mesmo dia, levada a Montevidéu, onde o garoto Camilo reconheceu Elenira. Dias depois, a imagem estampava uma página da revista Veja.
Olho roxo na CPI
No auge da repercussão do caso, Niza Severino morava em Cachoeira do Sul e enfrentava complicações de uma gravidez de risco. A irmã mais velha costumava pegar ônibus aos finais de semana para vê-la. Nas visitas, Niza percebia o profundo desgaste psicológico de Elenira. “Ela não tinha estrutura emocional para aquilo. Nos últimos tempos, fumava duas carteiras de cigarro por dia”, relata.
Uma das últimas pessoas a conviver com ela foi Maria Lisete Veloso, com quem havia estudado e que, ao contrário dela, seguiu carreira de professora. Quando Elenira morreu, Lisete estava hospedada em seu apartamento. Ela conta que, nos dias que antecederam a morte, Elenira em nada lembrava a garota espirituosa que fizera fama em Candelária: vivia com os nervos à flor da pele, a ponto de sofrer diversos desmaios. Receosa, costumava checar várias vezes a porta do apartamento e chegou a comentar que o trabalho na polícia já não a satisfazia mais.
Apesar disso, manteve-se discreta sobre o que ocorria no DOPS. “Se era isso o que a polícia queria, ela morreu sem revelar nada”, conta a irmã. Embora não haja provas, é bem provável que ela estivesse sob forte pressão. Uma eventual confirmação de que cuidara das crianças teria o efeito de uma bomba atômica, já que confirmaria a operação clandestina. “Naquele momento, ela era a peça do tabuleiro de xadrez que poderia revelar a verdade”, resume Ferri.
Mas isso nunca ocorreu. No dia 17 de abril, Elenira depôs à “CPI dos Uruguaios”, na Assembleia Legislativa. Visivelmente tensa, limitou-se a repetir que nada sabia. O que mais chamou a atenção, porém, foi um forte hematoma no olho esquerdo. O médico da polícia que a acompanhava alegou que ela sofrido uma queda e batido na quina de um fogão.

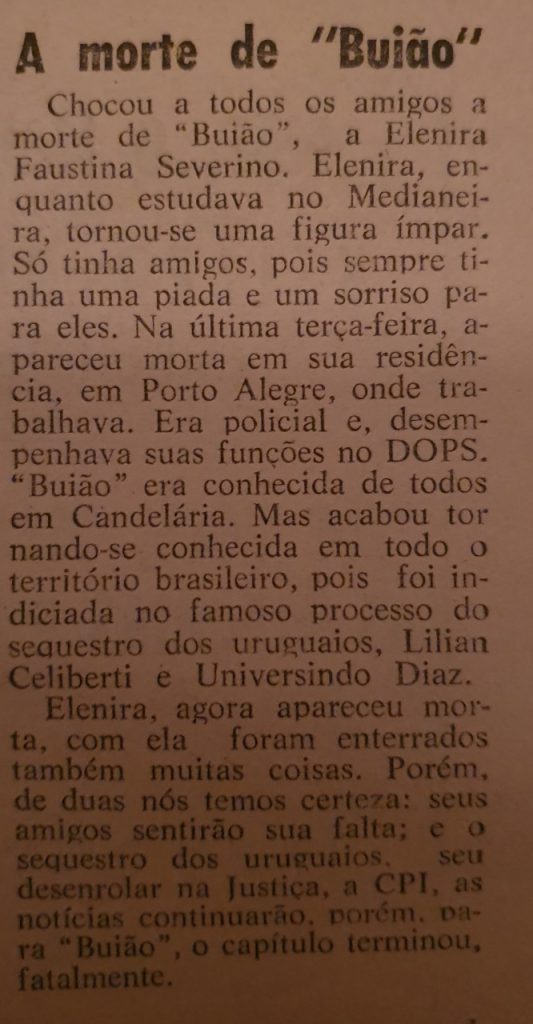
Um velório de Estado
Menos de um mês depois da passagem pela CPI e às vésperas de um novo depoimento, desta vez no Ministério Público, a imprensa noticiava a morte de Faustina Elenira Severino. Ela foi encontrada por Lisete pouco depois das 18 horas do dia 7 de maio, uma segunda-feira, em seu apartamento. Estava caída perto da porta, segurando um livro de palavras cruzadas com o qual costumava se distrair.
Na certidão de óbito, consta que Elenira foi vítima de um acidente vascular cerebral hemorrágico. As circunstâncias, porém, tornaram o óbito suspeito para muitas pessoas. Para Omar Ferri, não há dúvida: “Resolveram eliminá-la porque tinham certeza que ela acabaria contando a verdade.” Um dos indícios era um relato feito dias depois pelo irmão Delaro, que faleceu em 2019, segundo o qual na tarde do falecimento Faustina passeara com a sobrinha, sem demonstrar qualquer indisposição. Para Jair Krischke, trata-se de uma morte “altissimamente suspeita”. “Tenho a impressão que esse pessoal se deu conta da possibilidade de ela falar. Aí ela tinha que desaparecer”, analisa.
Mas era evidente que a resistência de Elenira à situação estava no limite. Conforme o fotógrafo Kadão, ao que tudo indica ela, pessoa de formação religiosa, vivia um conflito interno muito grande por não poder revelar a verdade. “Parecia muito fragilizada. Por isso que achamos que pode ter morrido de nervosa mesmo. Não temos certeza que ela foi assassinada, mas também não descartamos”, observa.
Outros dois fatores alimentaram as suspeitas. Primeiro, o velório de Elenira, realizado em uma capela do Instituto Médico Legal (IML), em Porto Alegre, teve proporções de um velório de Estado, com a presença de ninguém menos que o governador Amaral de Souza e o comandante do 3º Exército, general Antônio Bandeira, outra personalidade icônica do regime militar. No enterro em Candelária, os atônitos familiares de Elenira desviavam do assédio de jornalistas e recebiam coroas de flores e moções de pesar de grandes autoridades da época, incluindo o presidente João Figueiredo. O tumulto foi tamanho que a Brigada Militar teve que fechar o acesso principal à cidade durante a cerimônia. “Não sabíamos por que tanta homenagem, tanta repercussão. Quanto policial morre correndo atrás de bandido e não recebe nada disso. Eu, pessoalmente, achei estranho. Mas era um período muito complicado, não podíamos questionar”, diz Niza.
De fato, todo aquele movimento não fazia sentido, considerando a expressão quase nula que Elenira possuía na Polícia. Para bons entendedores, entretanto, o recado estava dado. “Foi um velório de Estado para uma humilde servidora da Polícia do Rio Grande do Sul. Era uma mensagem: não mexam no assunto”, coloca Krischke.
Familiares também observaram, ainda durante o velório, que Elenira estava, estranhamente, com a cabeça enfaixada, o que poderia indicar que ela sofrera algum tipo de violência. Após o sepultamento, quando Niza e outra irmã retornaram ao Cemitério Municipal para poderem se despedir de Elenira com mais tranquilidade, foram abordadas por dois homens, que se apresentaram como policiais e não queriam deixálas entrar. Elas insistiram e eles acabaram cedendo, mas as acompanharam até a sepultura. Depois, moradores da vizinhança relataram que a dupla, misteriosamente, passou toda a madrugada vigiando o local.
O ambiente ainda inóspito daquele período impediu que os jornalistas avançassem na investigação sobre o que de fato ocorrera com Elenira. Com isso, as dúvidas sobre a sua morte entraram no rol daquelas que jamais serão solucionadas.

O desfecho
Embora o flagrante do sequestro tenha garantido a sobrevivência de Lilián e Universindo, os dois foram condenados no Uruguai e cumpriram pena de cinco anos. Universindo faleceu em 2012.
Em julho de 1980, a Justiça reconheceu a ilegalidade da ação e condenou dois agentes do DOPS por abuso de autoridade, incluindo Didi Pedalada, que morreu em 2005. Pedro Seelig foi absolvido por falta de provas e segue vivo. Curiosamente, a sentença foi assinada por outro candelariense, o juiz Moacir Danilo Rodrigues, da 13ª Vara Criminal de Porto Alegre.
No saldo do episódio que frustrou os planos da repressão e expôs ao mundo a existência da Operação Condor, consta apenas uma morte – casualmente, a única que não era nem sequestradora e nem sequestrada.
LEIA MAIS: MPF recomenda às Forças Armadas que não façam homenagens à ditadura

